Como são as coisas, não é? Pois ontem de manhã, depois dum poema, tinha começado uma crônica pondo em cheque o uso pessoal de símbolos religiosos e ideológicos: crucifixos, fitinhas, adesivos, broches partidários e, especificamente, o anel de tucum e porque eu deixei de usar esse pequeno elo escuro feito da casca de um coquinho que liga ideologicamente seu usuário ao sofrimento do povo latino-americano.
Comecei argumentando do ponto de vista prático, numa introdução curta e irônica, sobre a fragilidade de um artefato de coco que quebra com facilidade. Enquanto eu evoluía arrogante e filosoficamente para o seguinte parágrafo, em que tratava de questionar a simbologia que o uso do anel encerra principalmente com relação à opção preferencial pelos pobres proposta aos católicos nas últimas décadas e que o termo "preferencial" não pode ser entendido como "exclusiva", minha irmã me telefonou. Ser interrompido no meio duma composição é ótimo! Ela queria que eu a levasse a Campo Mourão, numa ponta de estoque. Como já tinha perdido o fio da meada mesmo, aceitei.
Consumista que sou, comprei bastante. Mais até que minha irmã e minha mãe juntas, que perdem horas indecisas sobre o que e onde comprar. Sou prático: digo logo o que quero e o limite de preço aos vendedores e pronto. Não tenho muita paciência pra ficar escolhendo cores, formas e o diabo. E ao passo que minha irmã hesitava na trocentésima loja e minha mãe vagava noutra, resolvi respirar, esperar, conformado, do lado de fora, sentado no meio-fio.
Enquanto saboreava um quebra-queixo, um hippie, sentado ali perto, me ofereceu uns colares que estava vendendo, desses com sementes. E começou a puxar papo.
Agora, um desvio de assunto longo e meio no sense: sou recordista em conversas casuais com gente esquisita: semana passada, esperando ônibus na rodoviária de Peabiru [que está em reformas] fui parar exatamente no meio de um diálogo hilário entre um grupo de paraguaias e um bêbado [bebaço mesmo] que tentava entrevistar as moças pensando que fossem índias. Como não agüentei e tive um ataque de gargalhadas [também sou recordista em gargalhadas] o homem, bem pra lá de Bagdá, achou que meu riso fosse um aval pra que viesse confidenciar-me a sua vida [brava!]. E eu ouvi tudinho.
Numa outra ocasião, olhando a paisagem amarelada de Minas pela janela do ônibus que me levava São João Del Rey, percebi que um farelo branco sujava meu braço: a janela de trás, aberta, soprava a cocaína que um cara – de no máximo 20 anos – consumia sem cerimônias na poltrona imediatamente atrás da minha. Transtornado pelo efeito da droga, pediu para que eu não o censurasse e começou a contar suas desventuras amorosas [disse que a namorada tinha morrido naquele mesmo dia vítima de leucemia] e frustrações profissionais. Tentei dar uns conselhos [inúteis], mas ouvi mais e falei menos. As pessoas querem ser ouvidas, não ensinadas.
Ainda nas Gerais, e mesmo cansado, fui conhecer a estação ferroviária à noitinha: outra conversa inusitada. Um cachorro começou a me seguir, como se já me conhecesse. Entre um monte de gente que olhava a decoração de Natal, o bendito do vira-lata teimou me conhecia. Começamos, então, um monólogo. Só que quem falava era o cachorro. Sim. Falava com o olhar. Sabe aquele olhar de quem quer dizer alguma coisa? Pois eu jurava que esse cachorro queria me falar alguma coisa. O quê exatamente, não sei. Mas dei-lhe atenção. Quem sabe tenha sido efeito indireto da janela aberta do ônibus...
Situação semelhante vivi no Rio, em Copacabana. Sentei-me ao lado da estátua de Drummond e tivemos altos papos. Quero dizer, outro monólogo: o da estátua. Se bobear, devo ter escutado até A morte do leiteiro, meu poema preferido do poeta itabirano. E, na mesma data, à noite, olhando o balanço noturno das ondas, outro papo demorado: uma prostituta [não tão jovem], cansada de chamar a atenção dos alemães que passavam pela orla, sentou-se perto de mim. Ela virada para a rua, eu para o mar. Começou a falar sozinha, xingando os europeus pelo desprezo. Começou reclamando baixinho da vida, e foi aumentando o tom na medida em que percebia que não falava sozinha. Falou da humilhação que tinha que submeter para sustentar os três filhos, da casa de família onde trabalhava durante o dia e até, veja só, da morte de uma tartaruga de estimação. E eu ouvi tudo. Uma meia-hora depois uma senhora negra, com um ar alegre, toda de branco, passou por onde eu estava sentado, ainda perto do Drummond, e foi pra pertinho do mar. Depois de jogar um ramalhete de rosas pra Iemanjá e de balbuciar uma oração, voltou, sentou-se ao meu lado e começou a contar que tinha ido à praia agradecer à Rainha do Mar porque o marido voltara pra casa depois de três anos sem dar notícia. Achei aquilo tudo muito bonito. E fiquei emocionado. Ouvi e calei.
Fechando o parêntese e voltando ao papo com o hippie vendedor de colares, que também falou da própria vida, vida errante e litorânea. Depois de comprar dois colares com contas bem exageradas [que mais parecem burquinhas], continuei o papo por mais uns 15 minutos [e minha irmã ainda indecisa sobre o que comprar, perdida no meio dum mundaréu de gente]. Quando me levantei pra sair, o cara, em agradecimento pelo papo e pela compra, me ofereceu um anel de tucum. Justamente o tema do meu texto inacabado!
— Que puta coincidência! Pensei.
E, surpreso, acabei nem agradecendo. Fiquei de tal forma besta pensando nisso que nem percebi a meia-hora que elas ainda gastaram para finalmente saírem das lojas.
Em casa, diante novamente do meu teclado, e de anel preto no dedo, apaguei o texto. Ri. Ri sozinho.
Decidi usar o anel. Uso-o não para demonstrar nada, nem para ostentar qualquer coisa, mas porque vi nele o bêbado sarrista e as paraguaias envergonhadas, o rapaz drogado de Juiz de Fora, o vira-lata da estação, o Carlos Drummond, a biscate desgostosa, a negra das rosas brancas de Iemanjá e, claro, o hippie agradecido.




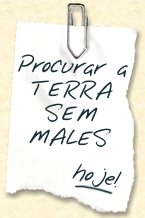








3 comentários:
muito bom seu texto. confesso que a princípio achei um pouco confuso (talvez), mas depois percebi que se tratava de uma excelente narrativa.Parabéns!
Achei aqui uma bonita e profunda definção de "uso do anel de tucum"... ali, a gente vê um "mundaréu de gentes"... Vale a pena usar. O meu já uso há quase 15 anos e nunca quebrou. Abraço, Luciane
O meu quebrou há 3 semanas(fazia 5 anos que usava) e procurando onde encontrar outro deparei com o seu Blog , parabéns!
Postar um comentário